
Resquícios de um passado monárquico: Senado avalia pedido de plebiscito para 2026
- Lorruan Alves
- 29 de jun. de 2025
- 6 min de leitura
Atualizado: 17 de nov. de 2025
Brasil, país de revoltas e fragilidades, carrega em sua história um constante embate entre o poder e o povo, entre promessas de ordem e realidades de exclusão. Desde o período colonial, quando revoltas como a dos Beckman ou a Inconfidência Mineira denunciaram abusos da metrópole, até os movimentos contemporâneos que tomam as ruas em busca de justiça social, o país revela uma tradição marcada pela insatisfação popular diante de estruturas políticas frágeis e elites resistentes à mudança. A instabilidade institucional, os ciclos de autoritarismo e a persistente desigualdade social moldaram um Brasil em que o grito por direitos se confunde com a luta por dignidade. Cada revolta é também sintoma de um Estado que, muitas vezes, se constrói distante da realidade do povo. Fragilidades estruturais, como corrupção, concentração de renda e educação precária, alimentam essa tensão cíclica. Assim, o Brasil segue como um território onde a democracia avança aos trancos e barrancos, e onde o inconformismo coletivo, apesar de sufocado por vezes, nunca se apaga por completo.
Dentro do pensamento popular brasileiro, a Monarquia é abordada como um regime autoritário, centralizador e distante das massas populares, essa narrativa, moldou um pensamento distorcido do que representou a Monarquia brasileira. Dom Pedro II é uma figura totalmente fora dos conceitos de tirania, embora tivesse um grande poder sobre a nação, não era autoritário e nem abusava de seus poderes políticos, tendo um comportamento sempre moderado, marcado pela sobriedade, valorização de ciência e da educação — uma figura virtuosa, que recusava aumentos de salários, financiava projetos públicos com seu dinheiro privado, não gastava dinheiro público com luxos e sim para abrir novas escolas ou estradas. Durante seu reinado — em certa ocasião — , há registros históricos de algumas tentativas de erguer monumentos em sua homenagem, iniciativa por parte de alguns políticos idólatras, e, com seriedade respondeu: "Não quero estátua alguma. O melhor monumento que podem erguer em minha memória é uma escola." Essa frase demonstra a tamanha importância que o monarca dava ao povo, seu governo não era movido por interresses próprios mas sim pelo bem-estar de seu povo, valorizando a educação com base principal para construção de seu império. A rejeição ao culto a personalidade e idolatria da figura monarca era uma das principais características de Dom Pedro II.
O fim da monarquia brasileira em 1889 representou a queda de um regime que, apesar de suas limitações, garantiu ao país décadas de estabilidade, progresso e respeito institucional sob Dom Pedro II. O imperador, culto e moderado, governou com equilíbrio, evitando guerras civis e promovendo a educação, a ciência e a infraestrutura.

O golpe militar republicano representou um movimento de revolta das elites econômicas e dos setores militares contra a Monarquia brasileira, motivado em grande parte pela abolição da escravidão, que contrariou os interesses econômicos dos grandes proprietários de terra. A queda do Império, ao contrário do que se costuma idealizar, não inaugurou uma verdadeira democracia. A chamada República Velha, marcada pelo domínio das oligarquias regionais e pelo regime do “café com leite”, manteve o poder concentrado nas mãos de poucos. Mesmo após a redemocratização do país, o sistema político brasileiro continua fragilizado e profundamente influenciado por elites que colocam seus interesses pessoais e ideológicos acima do bem coletivo. Em vez de buscar o progresso nacional, muitos representantes se preocupam apenas em obter vantagens do Estado, proteger seus partidos e sabotar qualquer iniciativa do grupo político adversário — uma lógica que paralisa o país e impede avanços reais para a população. A Proclamação da República no Brasil, ocorrida em 1889, é frequentemente celebrada como um marco de modernização e progresso. No entanto, uma análise crítica revela um cenário de improviso, influência estrangeira excessiva e falta de identidade nacional. Longe de ser um movimento popular ou amplamente planejado, a República foi imposta por setores militares influenciados pelo positivismo europeu e por elites insatisfeitas com a monarquia. O novo regime nasceu desordenado: sem um projeto de país, sem hino próprio e sem símbolos verdadeiramente brasileiros.
A ausência de símbolos nacionais coerentes com a história do Brasil é emblemática. A bandeira da República Velha, embora alegadamente inspirada no positivismo de Auguste Comte — visível no lema “Ordem e Progresso” —, carrega traços evidentes de uma cópia mal disfarçada da bandeira dos Estados Unidos, com sua disposição em verde e amarelo e um círculo de estrelas. Ainda mais sintomático foi o uso, nos primeiros momentos do novo regime, do hino da Revolução Francesa, a Marselhesa, em vez da criação de um hino nacional autêntico. Esse uso temporário escancarava a fragilidade simbólica da nova ordem republicana. O modelo político adotado — uma república federalista com três poderes — seguiu quase à risca o sistema americano. A escolha do nome “Estados Unidos do Brasil”, comprova o grau de influência e até de submissão ideológica ao modelo norte-americano. Isso gerou um paradoxo: ao romper com a monarquia brasileira, esperava-se criar uma nação mais autônoma e moderna, mas o que se viu foi a implantação de um sistema copiado, sem adaptação às realidades sociais e culturais do país.

Sendo assim, muitas pessoas consideram a chegada da República como a superação de um sistema político antigo e a chegada de uma nova democracia, porém, essa visão é totalmente contraditória, em uma República onde haviam "eleições" controladas e voto restrito a uma minoria, uma política dominada pelo coronelismo e o voto de cabresto, com a chegada da República, tínhamos um país totalmente controlado pelas oligarquias e governado a punho de ferro, sem a presença de qualquer participação popular.
Após a redemocratização do Brasil, iniciada com o fim da ditadura militar em 1985 e consolidada com a Constituição de 1988, muitos passaram a enxergar esse período como o verdadeiro início da democracia brasileira. De fato, o direito ao voto foi ampliado, os partidos políticos se reorganizaram, a imprensa conquistou mais liberdade e as instituições passaram a funcionar com maior equilíbrio. No entanto, seria correto afirmar que finalmente nos tornamos uma democracia plena? Ou estaríamos apenas diante de uma evolução formal, ainda profundamente enraizada nas práticas antigas do coronelismo e das oligarquias? A estrutura política brasileira continua marcada por mecanismos que favorecem a concentração de poder nas mãos de poucas famílias e grupos econômicos. Em diversas regiões do país, especialmente no interior, a lógica do poder local continua a mesma da chamada Velha República: poucos mandam, muitos obedecem. As oligarquias políticas não desapareceram com a redemocratização — elas se adaptaram. Hoje, não há mais coronéis armados com jagunços, mas há prefeitos, deputados e senadores que controlam votos por meio de favores, cargos públicos e influência sobre os meios de comunicação regionais. Trata-se de um neocoronelismo travestido de legalidade, onde a urna eletrônica convive com práticas clientelistas do século XIX.

Em 21 de abril de 1993, o Brasil realizou um plebiscito nacional para que a população escolhesse a forma de governo — Monarquia ou República — e o sistema de governo — Parlamentarismo ou Presidencialismo. Essa consulta popular, prevista pela Constituição de 1988 como um momento de definição democrática, consolidou o modelo já vigente desde a redemocratização: a República Presidencialista. A opção pela República venceu com ampla maioria (cerca de 86%), e o presidencialismo foi escolhido por aproximadamente 55% dos eleitores, em contraste com o parlamentarismo proposto por setores que buscavam um equilíbrio maior entre os poderes. Em 2026, volta a discussão nacional a possibilidade de um plebiscito no Brasil para decidir sobre a restauração da monarquia parlamentarista. A ideia, que surgiu através de uma iniciativa popular, visa dar aos eleitores a chance de escolher entre a República e a Monarquia como forma de governo. Mesmo após mais de um século da Proclamação da República, o movimento monarquista brasileiro segue vivo sob a liderança de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, reunindo grupos que defendem a restauração da monarquia constitucional como forma de governo.
Mais do que a escolha de bons ou maus representantes, o verdadeiro problema do Brasil está na estrutura do sistema político. Há uma ilusão recorrente de que a simples troca de nomes nos cargos públicos resolveria os impasses do país, quando, na verdade, o que está corrompido é o próprio modelo de organização do poder. Um sistema que estimula o personalismo, a fragmentação partidária e o uso do Estado como instrumento de barganha e distribuição de favores dificilmente permitirá que qualquer governante, por mais bem-intencionado que seja, promova mudanças profundas. Sem uma reforma política séria — que enfrente os vícios do sistema, os privilégios das elites e a falta de responsabilidade institucional — continuaremos presos a um ciclo de alternância entre grupos que, no fundo, jogam o mesmo jogo: o da manutenção do poder em benefício próprio.
.png)




.png)
.png)

.png)

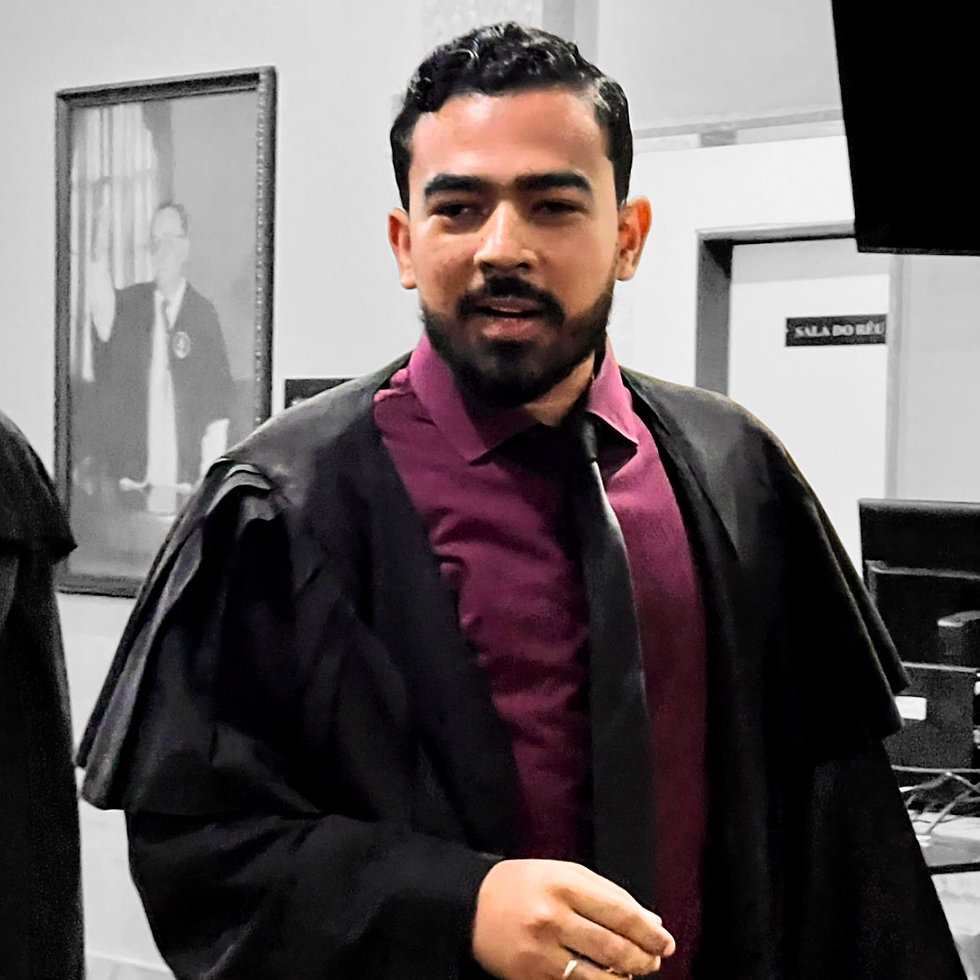
Comentários